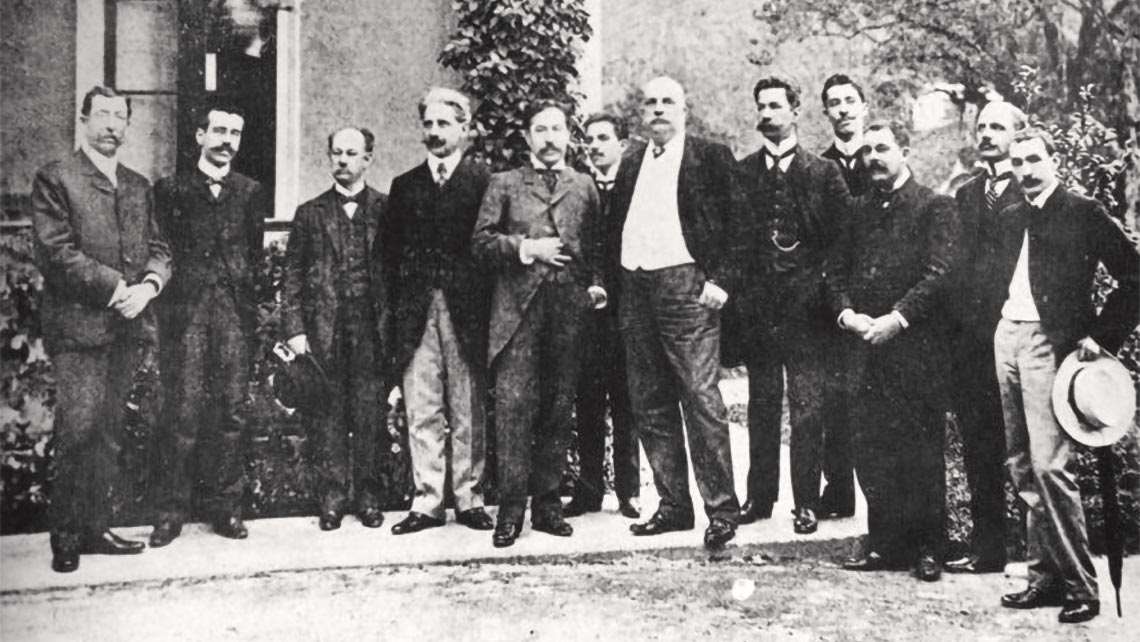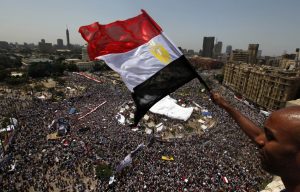Júlia Cherem Rodrigues
Os acontecimentos determinantes da Independência ainda transcorriam quando suas primeiras interpretações começaram a ser publicadas. Nos dois séculos que se passaram desde então, assim como a maneira de ler os episódios de 1822, também o perfil de seus intérpretes se transformou gradativamente. Essa história é contada no Dicionário da Independência: História, memória e historiografia, editado pelos historiadores da Universidade de São Paulo (USP) João Paulo Pimenta e Cecilia Helena de Salles Oliveira. Entre seus 765 verbetes, o dicionário contém quatro dedicados à tradição historiográfica, além de 39 sobre autores, vivos e mortos (ver reportagem “A Independência do Brasil de A a Z”).
Entre os intérpretes da Independência constam escritores e ensaístas célebres, como Euclides da Cunha (1866-1909), Joaquim Nabuco (1849-1910) e Florestan Fernandes (1920-1995); dois homens agraciados com títulos de nobreza durante o Império; oito integrantes da Academia Brasileira de Letras, alguns dos quais fundadores da instituição. São 37 homens, nove deles estrangeiros. As duas mulheres incluídas pesquisaram e escreveram na segunda metade do século XX: as historiadoras Emília Viotti da Costa (1928-2017) e Maria Odila Dias.
Nas primeiras décadas do século XIX, escrever sobre a Independência tinha um objetivo concreto: legitimar o surgimento do novo país, segundo Rafael Fanni, autor do verbete “Historiografia da Independência na Independência”. Três nomes se destacam nesse primeiro momento. Hipólito José da Costa (1774-1823), proprietário daquele que é considerado o primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense (1808-1822), defendia a atuação dos jornais na produção de uma “história contemporânea”, diz Fanni. Para fugir da censura, Costa editou seu jornal em Londres. Morto em 1823, não chegou a receber o convite do governo brasileiro para ser cônsul do novo país na capital britânica. Hoje, é considerado o patrono da imprensa brasileira.
José da Silva Lisboa (1756-1835), considerado o primeiro grande economista brasileiro, foi também pioneiro nos escritos sobre a formação do país. Em 1818, publicou Memória dos benefícios políticos do governo de D. João VI (Impressão Régia), em que interpretava a vinda da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, como marco de avanço civilizatório na colônia. Seu principal objetivo era defender a monarquia e sua presença no país. Nessa toada, em 1825 Lisboa lançou o livro Introdução à história dos principais sucessos do Império do Brasil (Typographia Imperial e Nacional). Lisboa, que teve participação importante na abertura dos portos brasileiros após 1808, recebeu de dom Pedro I (1789-1834) o título de Visconde de Cairu (ver pesquisa FAPESP n° 313 ).
O terceiro nome a se destacar é estrangeiro. Ainda antes da Independência, entre 1810 e 1819, o inglês Robert Southey (1774-1843) publicou em Londres, em três volumes, sua History of Brazil (Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown), que teve grande influência sobre o modo como os brasileiros entendiam o nascimento de seu Estado nacional. Filho de comerciantes, Southey era poeta e funcionário público. Sua obra sobre o Brasil fazia parte de um projeto mais amplo, que trataria de todo o Império português, mas a empreitada jamais foi realizada. O britânico via a colonização “como empreendimento civilizador”, conforme o historiador André da Silva Ramos, da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), no verbete sobre Southey.
No século XIX, prevaleceram as análises que têm os eventos do Rio de Janeiro e de Lisboa como foco. Os autores do período eram sobretudo homens ligados à aristocracia ou ao Estado. O mais relevante foi Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro (1816-1878), filho de um engenheiro alemão contratado para construir os altos-fornos da Real Fábrica de Ferro Ipanema, em Sorocaba (SP). Varnhagen passou a juventude em Portugal e chegou a lutar na Guerra Civil Portuguesa (1832-1834) ao lado de dom Pedro I. Sua História geral do Brasil (Laemmert) foi publicada entre 1854 e 1857, mas sua História da Independência do Brasil (RIHGB) só foi impressa postumamente, ao longo de 1916 e 1917. Como diplomata, Varnhagen consultou arquivos em Portugal, Espanha e outros países europeus. Costumava deixar uma marca pessoal nas obras que consultava: um “V”, a lápis, na margem da página.
A instituição mais importante para os estudos da formação do Brasil era o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838 (ver reportagem “Guardando a memória e escrevendo a história do Brasil”). A historiadora Lucia Maria Paschoal Guimarães, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), autora do verbete “História da Independência no século XIX”, informa que “na cerimônia de inauguração do instituto, um dos seus fundadores, o cônego Januário da Cunha Barbosa, lamentou que os estudos de história pátria estivessem entregues à pena de autores estrangeiros”. No entanto, a comissão prevista para recolher depoimentos sobre o período da Independência jamais foi instalada.
Século XX
Ao longo do último século, as leituras da Independência ganharam em diversidade e se descolaram da abordagem meramente política. A carreira de historiador se profissionalizou paulatinamente, sobretudo nas universidades. O perfil dos autores continuou predominantemente masculino e o foco de suas leituras seguiu voltado principalmente para os eventos políticos que ocorriam no Rio e em estados adjacentes, sobretudo São Paulo e Minas Gerais. Só na segunda metade do século a relevância de episódios como as guerras ao norte e ao sul ganharam destaque. Ao mesmo tempo, a separação do Brasil de Portugal passou a ser analisada por ângulos variados, com trabalhos de economistas, diplomatas e cientistas sociais.
Um momento decisivo ocorreu em torno do centenário da Independência, em 1922, cujas celebrações incluíram a reedição da História geral de Varnhagen, revisada por historiadores sob a coordenação de Capistrano de Abreu (1853-1927), além da publicação de documentos do período. Diferentemente de muitos de seus predecessores, o historiador cearense não vinha da aristocracia ou da classe alta – Abreu defendeu ideias liberais, abolicionistas e republicanas nas últimas duas décadas do Império, o que não o impediu de lecionar no Colégio Pedro II. Como funcionário da Biblioteca Nacional, publicou artigos argumentando contra a excessiva importância que a historiografia dedicava ao papel de dom Pedro I e seu pai, dom João VI (1767-1826), defendendo que as raízes da nacionalidade estavam nas bandeiras paulistas (século XVI), na guerra contra os holandeses em Pernambuco (século XVII) e na Inconfidência Mineira (1789).
A etapa seguinte da historiografia tem início na década de 1930, período de industrialização e urbanização, em que floresceram os “intérpretes do Brasil”, teóricos de formação diversa que buscaram explicar o país e sua história com visada ampla e ênfase em temas socioeconômicos. Entre eles destacam-se os sociólogos paulistas Caio Prado Junior (1907-1990) e Sergio Buarque de Holanda (1902-1982), além do jurista gaúcho Raymundo Faoro (1925-2003).
Prado Junior era militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e foi o primeiro grande intérprete da formação do Brasil a aplicar o método do materialismo histórico. Em sua obra, sobretudo no livro Evolução política do Brasil (Brasiliense, 1933), a Independência aparece como “aprendizado da revolução social, profunda, e não o de uma revolução considerada superficial, estritamente política”, escreve o historiador Paulo Henrique Martinez, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), autor do verbete sobre o sociólogo.
Conhecido pelo ensaio que deu origem ao livro Raízes do Brasil (José Olympio, 1936), Buarque de Holanda também se dedicou à Independência, como diretor da coleção História Geral da Civilização Brasileira (Difel), na década de 1960. No volume O processo de emancipação, que tratava do Brasil monárquico, o autor que foi bastante influenciado por um dos fundadores da sociologia moderna, o alemão Max Weber (1864-1920), analisa o movimento de libertação política do país.
Faoro, eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2000 e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 1977 e 1979, durante a ditadura militar (1964-1985), também teve grande influência de Weber e dedica parte de Os donos do poder (Globo, 1958) à Independência. O período que vai de 1808 a 1824 é analisado pelo prisma do conflito entre a burocracia do Estado português e os produtores rurais do Brasil. A separação, porém, é vista não como revolução, mas como “transação”. Em sua concepção, em torno do imperador, proprietários de terra, comerciantes pouco vinculados a Portugal e alguns funcionários públicos teriam entrado em acordo para constituir o novo país.
No século XX, a Independência esteve, ainda, sob a lupa de pesquisadores estrangeiros. A partir da década de 1930, o americano Alan Manchester (1897-1983) escreveu uma série de obras importantes sobre o Brasil, como os artigos “The rise of the Brazilian aristocracy” (1931), “The paradoxal Pedro, first emperor of Brazil” (1932), “The recognition of Brazilian Independence” (1951) e “A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro” (1967). Seu principal livro é Preeminência inglesa no Brasil (Brasiliense, 1933), que enfatiza as relações internacionais do país nascente. Além da carreira de professor na Universidade Duke, nos Estados Unidos, Manchester foi adido cultural da embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.
Outro importante autor estrangeiro é Richard Graham, norte-americano, filho de missionários nascido em Planaltina (GO), que começou a publicar sobre o tema na década de 1960. Para Henrik Kraay, autor do verbete a respeito de Graham, seu livro Escravidão, reforma e imperialismo (Perspectiva, 1979) “moldou a história social da escravidão que surgia nas décadas de 1970 e 1980”. Graham foi professor de diversas universidades nos Estados Unidos e se aposentou em 1999.
Na década de 1960, a historiadora Emilia Viotti da Costa (1928-2017) foi uma das primeiras autoras a se destacar nesse universo predominantemente masculino. Segundo o historiador Rafael de Bivar Marquese, da USP, autor do verbete dedicado a ela, sua principal contribuição foi integrar a história econômica e social com a história política, em ensaios como “Introdução ao estudo da emancipação política” (1966) e “A consciência liberal nos primórdios do Império” (1967). Viotti da Costa “procurou examinar as mediações entre o tempo longo das estruturas e o tempo curto dos eventos”, escreve Marquese, referindo-se aos processos econômicos e sociais, por um lado, e às plataformas políticas de grupos sociais, por outro.
A década de 1970 constitui um momento relevante para a historiografia da Independência. Em 1972, a celebração do sesquicentenário foi capitaneada pela ditadura militar e, contrastando com o caráter ufanista da comemoração oficial, nas universidades adotou-se um tom crítico, olhando para os eventos do passado com vistas a entender o presente, conforme a historiadora Wilma Peres Costa, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), autora do verbete “Historiografia da Independência no século XX”.
Esse foi o contexto da publicação da coletânea 1822: Dimensões (Perspectiva, 1972), coordenada pelo historiador Carlos Guilherme Mota, mais tarde fundador do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP. O livro forneceu um amplo panorama de visões sobre os eventos do período, com participação de Viotti da Costa, Fernando Novais (USP) e Ilmar Matos, então na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), e estrangeiros, como os franceses Frédéric Mauro (1921-2001) e Jacques Godechot (1907-1989) e o português Joel Serrão (1919-2008). A segunda parte da coletânea, denominada “Das Independências”, dedica cada capítulo a uma região do país, dando impulso à diversificação das perspectivas de análise, para além do tradicional olhar centrado no Sudeste do Brasil.
O capítulo “A interiorização da metrópole”, da historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, que foi professora da USP e da PUC de São Paulo, obteve destaque particular. Nele, Dias argumenta que a historiografia da Independência dava pouca importância ao comportamento das elites brasileiras e apresenta essas elites como herdeiras de interesses da Coroa portuguesa. No início da carreira, Dias foi professora assistente na cadeira de Sergio Buarque de Holanda na USP. Mais tarde, desenvolveu influentes trabalhos de história social, como o livro Quotidiano e poder (Brasilense, 2001), em que explorou o papel de pessoas, sobretudo mulheres, que os estudos tradicionais deixavam de lado, incluindo “vendedoras de tabuleiros, lavadeiras em rios e chafarizes, aguadeiras”, escreve o historiador Elias Thomé Saliba, da USP, no verbete a ela dedicado.
Desde então, conforme escreve Peres Costa, a ideia da revolução perdeu espaço parcialmente para a de construção do país, e os estudos sobre a Independência passaram a tratar de temas variados: da condição social de mulheres, escravizados e indígenas à situação econômica das províncias. A digitalização de importantes acervos, como o da Torre do Tombo, em Portugal, e, no Brasil, o da Biblioteca Nacional, o do Arquivo Nacional e outros, tem facilitado o acesso a documentos e à pesquisa com dados, atraindo o interesse de economistas e cientistas sociais para a investigação das diferentes dimensões da dissolução do império português. Os verbetes do Dicionário da Independência, por exemplo, não foram escritos apenas por historiadores. Entre seus autores há cientistas políticos, economistas, museólogos, historiadores da arte e antropólogos.
Pimenta e Salles Oliveira, no verbete “Historiografia da Independência: temas atuais”, destacam dois grupos de estudos atuantes neste século. Um é o Centro de Estudo dos Oitocentos, fundado em 2002 pelos historiadores José Murilo de Carvalho, Gladys Ribeiro, entre outros, sediado na Universidade Federal Fluminense (UFF). O outro é temático “Brasil: fundação do Estado e da nação”, criado em 2001 pelo historiador István Jancsó (1938-2010) e apoiado pela FAPESP entre 2004 e 2009. Segundo Peres Costa, que foi subcoordenadora do grupo, seu objetivo era reinterpretar temas como revolução, crise, Estado e nação, centrais no livro 1822: Dimensões. A principal inspiração foi a história dos conceitos, corrente de origem alemã que estuda a transformação histórica dos termos.
Nesse período, também se consolidou a tendência a uma historiografia mais diversa, que não olha apenas para os eventos políticos e econômicos na corte dos Bragança e nas elites agrárias. Os jovens pesquisadores demonstram grande interesse pelo papel de minorias, como as mulheres, os povos indígenas e a população negra, além dos episódios ocorridos nas antigas províncias de norte a sul do país.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.